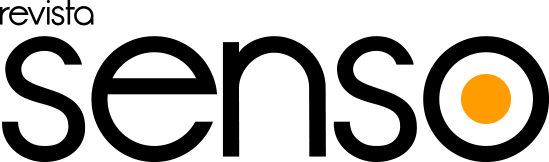O ódio não é apenas uma emoção ou um sentimento, mas é um afeto político. É assim que as pesquisas mais recentes no campo da teoria dos afetos tem descrito o ódio e não é de hoje que ele tem sido usado por líderes religiosos, governos e agendas midiáticas como instrumento de mobilização. O fenomenólogo húngaro Aurel Kolnai defendeu em sua obra Asco, soberba e ódio: fenomenologia dos sentimentos hostis a tese de que o ódio é um sentimento sempre violento, que visa a destruição do outro e é, portanto, endereçado. Já a jornalista alemã Carolin Emcke, em seu livro Contra o ódio destaca que o endereçamento é uma construção narrativa que se forja em pessoas aparentemente muito seguras de si, mas que nem sempre o são. Essas observações preliminares nos ajudam a olhar para nosso entorno e nos questionar sobre a potencialidade destrutiva do ódio. Há um odiar que parece dominar nosso modo de estar no mundo e que, por isso, habita a todos, independentemente de ideologia política ou partidária.
Quando odiar é nosso registro ordinário temos um sintoma de uma sociedade adoecida. Vociferações, cancelamentos, haters… a cultura do ódio vende e se vende e, nos ambientes virtuais, aciona de modo frenético os algoritmos. A força reprodutora do ódio é uma espécie de mola mestra do mundo contemporâneo. Talvez sempre foi, mas agora nós a sentimos rasgando as nossas peles e perfurando nossa carne, estuprando nossas mulheres, destruindo o rosto das trans, vilipendiando o corpo dos negros.
Vale ressaltar que o combate ao ódio não se fundamenta num imperativo moral de fundo judaico-cristão de amor ao próximo, mas sim numa postura ética fundamental de abertura e acolhida ao outro que nos faz potencialmente mais humanos. O discurso do “amai-vos” não é suficiente para garantir que o ódio não nos dominará. Inclusive é bastante contraditório o fato de que pessoas LGBTI+ sejam tão odiadas justamente por cristãos que, em tese, deveriam viver o amor ao próximo. Talvez cabe-nos buscar a compreensão dos processos de construção do ódio como este afeto político que tem modulado nossas interações sociais e também nossa práxis religiosa.
O ódio como idolatria
Geralmente, associamos ao ódio uma irracionalidade – o que não é verdadeiro. O ódio não é irracional, mas é estrategicamente construído por uma racionalidade ardilosa. Se fosse irracional, não seria possível imputar crimes de ódio, pois não haveria liberdade de ação. Essa racionalidade não é fruto apenas de um discurso lógico, mas de uma perversão do pensamento que se cristaliza a partir do acionamento de outras emoções hostis. Nesse sentido é que analisaremos mais detidamente a construção do ódio contra as pessoas LGBTI+.
A narrativa por trás de práticas de lgbtifobia é construída a partir de uma imagem ideal de família e de sexualidade alicerçada numa compreensão biopsíquica do ser humano bastante restrita. E, como se sabe desde Foucault, a construção de discursos se dá pela configuração de dispositivos de poder na linguagem que moldam nossa percepção de mundo e de nós mesmos. Cruzando essas duas informações, temos que as religiões cristãs, ao fazerem uma leitura biologizante e mesmo fundamentalista das escrituras, acabam extraindo daquilo que consideram “Revelação Divina” uma disposição disciplinar que deve orientar o desejo do corpo. A metafísica que sustenta essa narrativa é a de que o sexo biológico assigna o corpo com uma destinação ontológica. A proeminência, portanto, da essência sobre as relações sociais do sujeito é o alicerce deste discurso. A questão é que a negação sistêmica do ser social e a sua subordinação ao papel ontobiológico atribuído aos órgãos genitais configura-se numa impossibilidade de interpretação. Noutras palavras, a narrativa que fundamenta o discurso de ódio contra LGBTI+ nas religiões precisa esquivar-se de qualquer forma de interpretação. Por isso há sempre uma negativa ao tentar-se argumentar ou discutir, uma vez que foi atribuído um caráter de verdade eterna sobre aquela visão de mundo. Ora, esse comportamento que constrói uma imagem fixa de família e da sexualidade humana e que lhe atribui um valor metafísico é, basicamente, o comportamento idolátrico.
O filósofo brasileiro Ricardo Timm de Souza, ao esmiuçar as origens da idolatria na sua obra Crítica da razão idolátrica, defende que não se trata de uma postura apenas religiosa, mas de uma tentação ancestral que comanda nossa matriz antropológica. Idolatria é a adoração da imagem como uma resposta à incapacidade de decifrar a ideia, não obstante a nossa capacidade de lê-la. Essa definição, que Souza extraiu principalmente de Vilém Flusser, pode ser aplicada ao discurso de ódio de fundo religioso contra as pessoas LGBTI+. A imagem de família e de sexualidade é quebrada pela existência de corpos LGBTI+ desviantes da ficção da norma. Com isso, ao se expressarem, relacionarem, lutarem por direitos e mesmo existirem, essas pessoas quebram o ídolo – são consideradas verdadeiras iconoclastas, e, logo, devem ser eliminadas. No esquema social das religiões, elas são vistas como ameaças, inimigas da família, potenciais destrutoras do cristianismo. Elas são outros que precisam ser aniquiladas.
O ódio como performance
A cegueira idolátrica, no entanto, não se restringe à construção simbólica do outro como mal iconoclasta, que quebra os ideais imaginados de família e sexualidade. Não se pode desconsiderar que, atrelados ao discurso da “ideologia de gênero” estão práticas de violência física e moral das pessoas LGBTI+. O ciclo adoecedor do ódio precisa colonizar não apenas as mentes, os ideários e a imaginação, mas deve se materializar em práticas cotidianas de lgbtifobia. É impactante as pesquisas conduzidas pelo pesquisador Carlos Mendonça sobre os crimes de transfobia que se caracterizam quase sempre pela destruição do rosto das vítimas. O rosto é sinédoque da carne, diria Emmanuel Levinas, ou seja, no rosto está expresso de alguma maneira toda aquela subjetividade. A destruição dos rostos de LGBTI+ é uma forma simbólica de dizer: vocês não têm o direito de continuar vivos, vocês não devem existir, vocês devem morrer.
A performatividade do ódio significa que ele não se restringe a uma emoção. Esse poder de construir realidade, de transmitir uma ideia pela ação, é o seu poder performático. Pensamos, por exemplo, no fato corriqueiro das piadas homofóbicas num inocente almoço familiar de domingo. Elas não são insinuações aleatórias, mas a reafirmação odiosa de que gays não são bem-vindos naquele lugar. Outro exemplo são as manifestações pró-família nas ruas ou nas redes sociais que pregam que a “agenda de gênero” visa a perverter as crianças e que a tal “ideologia de gênero” seria um grande mal para as infâncias. Essa dimensão apelativa e quase conspiratória do discurso justificaria a violência contra tais pessoas: que fiquem quietas em seus armários, que se mantenham longe de nossas crianças. Por fim, recordamos a última vinda de Judith Butler no Brasil em 2017. Na ocasião além da violência explícita que ela e sua esposa sofreram no país, chamam a atenção as manifestações de rua por onde ela passava. Em São Paulo, uma boneca com seu rosto foi queimada por uma pessoa que empunhava um terço. A imagem do fogo consumindo aquela caricatura foi capturada por jornais – ela inevitavelmente remonta à queima das bruxas pela inquisição. E tudo com a bênção e estímulo de alguns líderes religiosos. Essas questões demonstram que mais do que simbólica, a lgbtifobia é semiótica, ou seja, ela significa algo. Seu significado é sempre a morte e a eliminação daqueles que, por serem estranhos, não podem viver.
A cura do ódio
Essa semiose que nos envolve e nos posiciona socialmente é uma das razões pelas quais temos esfacelado o estado democrático de direito. A ela se atrelam não somente os crimes de lgbtifobia, mas uma série de atentados contra os direitos humanos. O ódio, que nos adoece por dentro, acaba dando os rumos para a sociedade brasileira: odiar é existir. Mas será que esta é a única saída? O que poderia, efetivamente, curar o ódio?
Na parada gay de São Paulo, em 2015, um grupo de evangélicos empunhou uma faixa que dizia: “Jesus cura a homofobia”. É curioso que o mesmo grupo religioso que ataca e justifica seu ódio com uma leitura idolátrica da Bíblia tenha também em seu meio aqueles que reconhecem o direito de todas as pessoas. Longe de fazer um juízo teológico sobre qual das duas visões é mais correta, pensamos em termos éticos que o trabalho feito por Cristo sempre o foi de aproximar-se dos marginalizados e que os cristãos talvez devessem ter a mesma postura. Por outro lado, sem uma boa educação para a diversidade nenhum discurso bem intencionado se mantém por muito tempo: a força persuasiva do ódio apela para o medo, para a alteridade ameaçadora – como resistir a essa tentação? A educação para a diversidade desmistifica o diverso. A diferença não é abordada como algo que nos separa, mas como elemento de unidade, afinal, um fato é realmente unificador da espécie humana: somos todos diferentes.
A cura para o ódio não está só na redescoberta do amor. Kolnai insistia que o ódio se dissipa quando o endereçamento perde sua razão de ser. A idolatria é também um enfeitiçamento da razão. A cura é o longo processo de desnudamento da ardilosidade do pensamento. Quanto mais despertas, lúcidas e instruídas forem as consciências, mais a idolatria perde sua força. É preciso ensinar a interpretar a imagem – e nossa cultura visual, embora dificulte o processo, pode ser uma aliada já que o trânsito de pessoas LGBTI+ nas telas e redes sociais tem o efeito de resistência. Daí em diante, escolher a destruição do outro seria escolher a própria destruição, porque estamos inevitavelmente ligados uns aos outros. Por que odiar tanto?