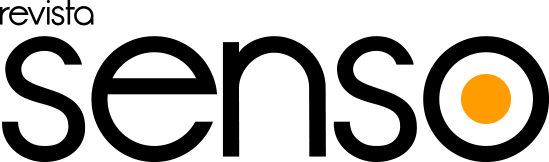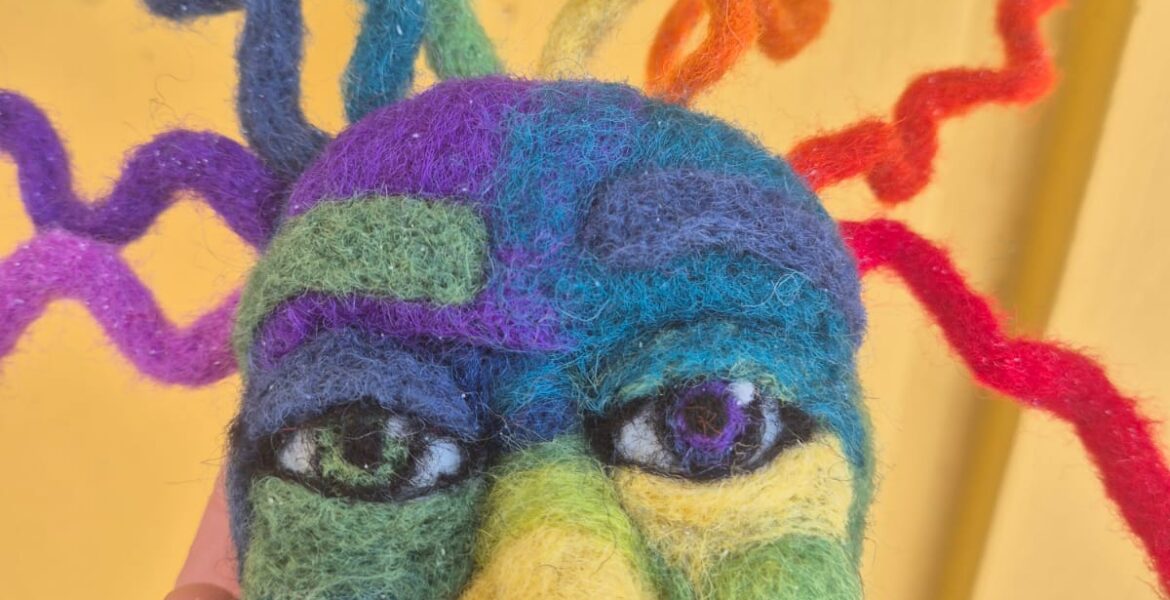O clássico artigo de Spivak “Can the subaltern speak¿” [“Pode a/o subalterna/o falar?”] é sempre um lembrete importante para as discussões sobre o que é pronunciável e o que é audível em nossas reflexões. Tentando fugir do capacitismo, poder-se-ia perguntar o que é mostrável e visível, o que pode estar exposto e é tocável, o que é comível e digerível. Ou, como diria Butler: quais vidas são vivíveis e quais mortes lamentáveis¿
Em geral, nos fazemos essa pergunta em relação aos grandes sistemas e estruturas que nos oprimem, calam nossas vozes e nos impedem de pronunciar nossos mundos. Mas, quando atingimos uma certa inteligibilidade (ainda que precária e frágil), ou desde sempre, deveríamos nos perguntar pelas limitações que nós mesmas impomos em nossos espaços mais localizados e nomeáveis.
Ainda que nossas siglas (LGBTQIAPN+ e suas variações) continuem impronunciáveis e, agora, atacadas como “identitarismo” autofágico, e queer ou cuir sejam termos restritos a alguns grupos mais acadêmicos que políticos, eles já não soam tão “estranhos” como outrora. Já é possível construir arqueologias, cartografias, historiografias e compêndios ou manuais. E eis que começam – ou continuam – nossos problemas.
Agora a questão não é apenas “pode @ queer/cuir falar” em relação aos discursos e estruturas hegemônicas (cultuais, políticas, econômicas, religiosas), mas “pode @ queer/cuir falar” em relação ao que se tem definido como “o que conta” (matters – Butler, 1993) como “queer/cuir”. Em alguns espaços e publicações, parece emergir o que algumas temos chamado de “queerômetro”, usado para medir o quão “queer/cuir” algo ou alguém é, ou sua forma de falar e participar das práticas consideradas “queer/cuir”.
As disputas no campo acadêmico e político mais amplo, sem dúvida, são mais vorazes. No âmbito da teologia e da religião, talvez porque os espaços em disputa ainda sejam mais restritos e os ouvidos mais moucos, ainda parece predominar uma certa solidariedade e leniência com relação àquilo que “pode contar” como “queer/cuir”. Pode ser porque ainda nos faltem mais aliadas em nossas divergências e divisões internas, porque ainda nãos nos ofereceram tantas oportunidades para ir à Disneylândia ou porque ainda preservamos algo daquilo que as formulações mais antigas do “queer/cuir” quiseram ser – algo indefinível e amalgamável.
Seja como for, já temos um acúmulo suficiente para identificar e perceber caminhos percorridos e desenhar nossos próprios cânones – por mais unqueer que possa parecer. Como já fiz antes, me proponho a seguir fazendo o mesmo: identificar itinerários e descrever paisagens que sigam inspirando lugares frescos e imaginações criativas. Assim, somando-me a outros esforços, destaco dois elementos sobre as teologias e espiritualidades queer na América Latina e no Caribe que, às vezes, podem ficar de fora daquilo que @ queer pode falar.
AM/PM – Antes e depois de Marcella
Se é que se pode falar de uma teologia queer/cuir na América Latina e no Caribe, ela não começou com Marcella Althaus-Reid. Isso pode parecer estranho vindo de alguém para quem essa autora foi e é tão importante, bem como considerando que ela foi e continua sendo uma referência para as teologias queer em qualquer parte do mundo. Não há dúvidas de que essa importância também se dá em relação à América Latina. Mas, é mais uma importância “em relação a” do que a “partir de” ou “para” a América Latina, dado que ela continua sendo desconhecida e/ou invisibilizada nos principais centros de formação e publicações teológicas no continente.
Isso não é um demérito ou uma diminuição de sua importância para quem tem feito essa discussão e esse trabalho “na” América Latina, especialmente porque a produção de Marcella é resultado de sua experiência (de vida e formação) nesse contexto. Ainda assim, as suas principais obras foram produzidas e publicadas nos contextos europeu e norte-americano e em idiomas estrangeiros pelas próprias contingências de sua trajetória. Mas essas mesmas obras evidenciam uma relação profunda não apenas com tradições teóricas e teológicas latino-americanas e caribenhas, mas com realidades, movimentos e produções desenvolvidas aqui. Marcella também é fruto – com toda a sua criatividade e inovação – de processos que já eram vivenciados na América Latina mesmo antes de sua ácida (e justa) crítica à Teologia da Libertação e à Teologia Feminista latino-americanas.
Ela se reconhece e se fundamenta nessas tradições e não supõe que aqui “não haja nada”. Nos encontros que tive com ela, algo que repetia era: “eu digo para as pessoas do Norte que há teologia queer na América Latina”, e algumas das coletâneas que organizou explicitam a preocupação em dar visibilidade a isso. Embora publicações “mais consistentes” e com maior visibilidade tenham vindo depois, a produção teológica de Organizações Não-Governamentais, Grupos e Igrejas Cristãs LGBT e lideranças religiosas e/ou teólogas e teólogos nas décadas de 1980 e 1990 fazem parte da nossa ancestralidade teológica queer. Isso fundamentou, por exemplo, minha pesquisa para a Tese de Doutorado, especialmente na parte publicada separadamente no vol. 4 da Série Ensaios Teológicos Indecentes – “Fazemos a teologia que podemos” e em outras tentativas de mapeamento e apresentação das paisagens teológicas queer na América Latina.
Destaco aqui os nomes de Thom Hanks e John Doner como impulsionadores de uma produção teológica e organização de grupos e igrejas queer/cuir na América Latina. Quantas de nós frequentamos a impressionante biblioteca particular de Thomas Hanks em Buenos Aires, ou tivemos acessos a materiais enviados por ele e John para esses mesmos grupos e bibliotecas de centros de formação teológica? Foi aí mesmo e em cópias xerografadas que conheci o queer e a própria Marcella.
Para além de publicações e títulos o reconhecimento de um campo de produção de conhecimento – como as teologias queer – se dá pela sua presença nos ambientes de educação formal. Embora esse tema ainda esteja longe dos currículos oficiais dos centros de formação teológica na América Latina e no Caribe, há que se reconhecer alguns esforços para a criação de “brechas”. CETELA, Comunidad de Educación Teológica Ecuménica e Latinoamericana y Caribeña, provavelmente tenha sido o primeiro espaço no qual se deu visibilidade a uma emergente produção. Em sua 7ª Jornada Teológica, em 2003, o tema apareceu disfarçado como Teología de Género no que se chamou de rostros emergentes.
Essa possibilidade se deu pela sensibilidade e coragem de Amílcar Ulloa em diálogo com o teólogo cubano Iván Pérez Hernández a partir de seu trabalho “Teologías de la Liberación y Minorías Sexuales em América Latina y el Caribe” (publicado no livro Teologia e sexualidade, organizado por José Trasferetti). Embora Iván não tenha podido participar, o tema foi tratado e aparece na publicação que é resultado desse encontro (A teologia que sai do armário).
Outros encontros e instituições também abriram espaços para continuar essa conversa, nem sempre tranquila. Em 2005, o tema apareceu (timidamente) no primeiro Fórum Mundial de Teologia e Libertação. Em 2012, o Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) organizou o Primer Simposio Internacional de Teología Queer, na Costa Rica. Diferentes grupos de trabalho também marcaram presença nos Congressos Latino-Americanos de Gênero e Religião organizados pelo Núcleo de Pesquisa de Gênero da Faculdades EST a partir de 2015, organizando redes e produzindo documentos.
Há questões levantadas nesse contexto e nas suas formas de produção teológica que não deveriam ser esquecidas. Não em nome do registro “correto” e “completo” da memória (algo no qual nem acreditamos), mas porque ainda podem nos ajudar hoje. Invisibiliza-las em nome de alguns nomes – incluindo o de Marcella – pode apagar os processos coletivos e comunitários que permitiram que essas reflexões emergissem – inclusive as de Marcella – e continuam emergindo com, por causa ou independentemente dela.
O queer/cuir na América Latina – nossa herança feminista
Chega a ser surpreendente que a história da “teoria” ou dos “estudos” queer, especialmente no campo teológico, muitas vezes seja contada a partir de homens, uma vez que as primeiras formuladoras tenham sido mulheres feministas, como a própria Marcella sempre se identificou. Sim, há Michel Foucault, os Estudos Gays e Lésbicos, mas, de modo particular na América Latina e no Caribe, teologias e espiritualidades queer foram (e são) vividas e formuladas, em grande medida, por feministas. Talvez porque aqui não houve uma força tão presente de um “feminismo lésbico” no campo da teologia, a produção de teólogas feministas, de modo geral, não é incluída nas paisagens teológicas queer.
A problemática com o termo “queer” e sua tradutibilidade já tem sido objeto de muitas discussões. Marcella falou da sua proposta como uma “teologia indecente” (mais tarde assumindo mais o “queer”, inclusive por questões editoriais) e acredito que essa formulação ainda é mais próxima do nosso contexto e permite que se reúna uma nuvem maior de testemunhas. Nancy Cardoso, por exemplo, foi uma teóloga citada com frequência por Marcella e, junto com ela, há muitas outras teólogas feministas com uma produção “indecente” e/ou queer/cuir (ainda que não utilizem esse rótulo ou essa categoria nos moldes do Norte).
Nessa nem tão longa história, também as mulheres lésbicas e pessoas trans foram colocadas na invisibilidade, seja por percorrerem mais o caminho da teologia feminista ou por não ostentarem títulos acadêmicos e publicações reconhecidas. Ou quem diria que Lohana Berkins não deveria estar numa genealogia da teologia queer latino-americana e caribenha como teóloga travesti? E o que dizer das teólogas feministas negras e suas discussões sobre corpo e sexualidade? Mais recentemente, quem tem se destacado nesse campo, assumindo uma perspectiva lésbico-queer-feminista é Ana Ester Pádua Freire, que mesmo com títulos e publicações segue sendo invisibilizada em diversos espaços de uma tal “teologia queer”.
Publicações recentes como Mysterium Liberationis Queer, Teologia da Libertação na América Latina, Indecentes e indignadas: Teologías, pedagogías y práxis de Liberación em América Latina e Transformaciones queer/cuir en Abya Yala: Teologías indecentes y disruptivas evidenciam tentativas e esforços de fortalecer o panorama teológico queer na América Latina e no Caribe trazendo novas vozes e perspectivas. Apesar de algumas escolhas editoriais e critérios de seleção questionáveis, ampliam o acesso à produção nesse campo e convidam ao diálogo.
É importante que outras iniciativas venham a se somar em termos de organização comunitária, encontros de diálogo e debate, publicações e práticas de formação. Há muito caminho a ser caminhado e muitas searas a serem cultivadas. Se há algo que nos une é a disrupção de todos os sistemas classificatórios que nos impedem de viver dignamente e a lembrança de que tais sistemas sempre se fundamentam em formas de organização sexual que reduzem e limitam as possibilidades de expressão humana e sua participação numa biodiversidade viva e criativa. Mas a pergunta “pode @ queer/cuir falar” deveria sempre nos acompanhar, mesmo quando estamos entre nós.
Referências
ALTHAUS-REID, Marcella. Gustavo Gutiérrez Goes to Disneyland. In: From Feminist Theology to Indecent Theology. London: SCM, 2004. p. 124.
ALTHAUS-REID, Marcella. Indecent Theology. Routledge: SCM, 2001.
BOEHLER, Genilma; BEDURKE, Lars; SILVA, Silvia Regina de Lima. Teorías queer y teologías. San José: DEI, 2013.
BUTLER, Judith. Bodies that matter: on the discursive limits of “sex”. New York: Routledge, 1993.
BUTLER, Judith. Vida precaria: El poder del duelo y la violencia. 1ª ed. 1ª reimp. Buenos Aires: Paidós, 2009.
CÓRDOVA-QUERO, Hugo; DÍAZ, Miguel H; SANTOS-MEZA, Anderson Fabián; MOR, Cristian (eds.). Mysterium Liberationis Queer: Ensayos sobre teologías queer de la Liberación en las Américas. Série Mysterium Queer. Vol. 1. EUA: Institute Sophia Press, 2024.
CÓRDOVA-QUERO, Hugo; SANTOS-MEZA, Anderson Fabián (ed.). Transformaciones queer/cuir en Abya Yala: Teologías indecentes y disruptivas. Colección «Indecencias Teológicas» N°1. Saint Louis, MO/Ciudad de México: Institute Sophia Press/ Comunidad de Educación Teológica Ecuménica de América Latina y el Caribe (CETELA), 2025.
ESTER, Ana. Dezmandamentos: teologia lésbico-queer-feminista. Rio de Janeiro: Metanoia, 2023.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 42.ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
MCGEOCH, Graham. ANDRADE, Martínez (coords.). Indecentes e indignadas: Teologías, pedagogías y praxis de liberación en América Latina. Colombia e Venezuela: Laboratorio Educativo, 2024.
MCGEOCH, Graham. Teologia da Libertação na América Latina: novas sementes de inquietação. São Paulo, Vitória: Recriar, Unida, 2024.
MUSSKOPF, André S. “Fazemos a teologia que podemos”: Igrejas inclusivas na América Latina nas décadas de 1980 e 1990. Rio de Janeiro: Metanoia, 2023.
MUSSKOPF, André S. A teologia que sai do armário: Um depoimento teológico. In: ULLOA, Amílcar (ed.). Teologías de Abya-Yala y formación teológica. Bogotá: Kimpress, 2004. p. 161-214.
MUSSKOPF, André S. Via(da)gens teológicas: Itinerários para uma teologia queer no Brasil. Tese de Doutorado. São Leopoldo: Faculdades EST, 2008.
MUSSKOPF, André S. Tan queer como sea posible. Revista Internacional de Teologia Concilium, v. 383, p. 1-19, 2019.
MUSSKOPF, André Sidnei. Teologia queer e grupos cristãos LGBTQIA+ na América Latina. Interações, Belo Horizonte, v. 16, n. 1, p. 208–216, 2021.
PÉREZ HERNÁNDEZ, Iván. Teologías de la Liberación y Minorías Sexuales en América Latina y el Caribe. Consideraciones Preliminares. In: TRASFERETTI, José. Teologia e sexualidade. Campinas: Átomo, 2004. p. 103-130.
SPIVAK, Gayatri. Can the Subaltern Speak? In: NELSON, C.; GROSSBERG, L. (Eds.). Marxism and the Interpretation of Culture. University of Illinois Press: 1988. p. 271-313
SUSIN, Luiz Carlos (org.). Teologia para outro mundo possível. São Paulo: Paulinas, 2006.
ULLOA, Amílcar (ed.). Teologías de Abya-Yala y formación teológica. Bogotá: Kimpress, 2004.