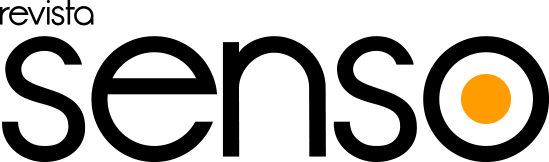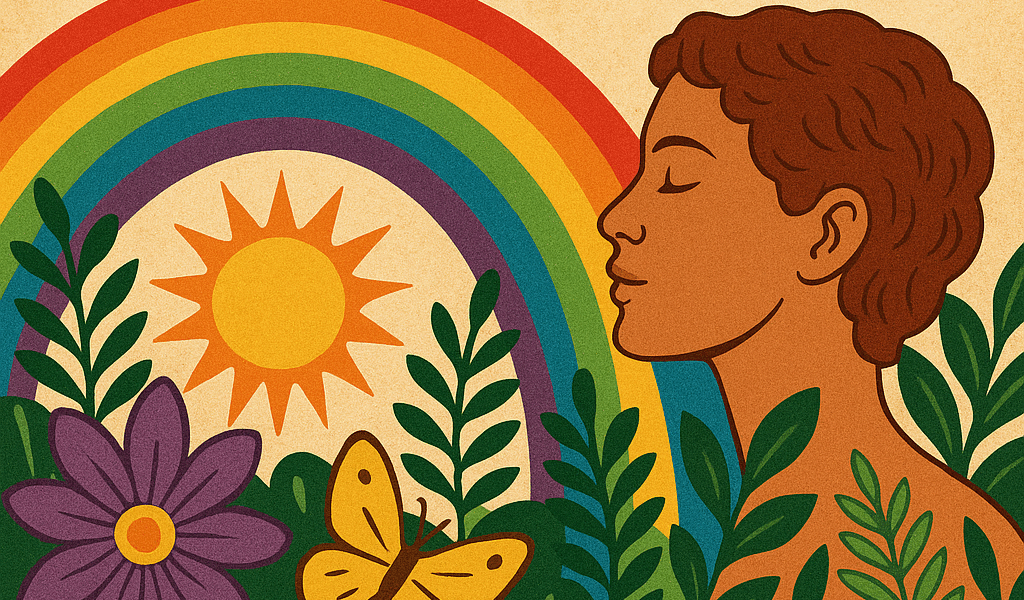Subversão, resistência e cura nas intersecções da vida plural
Os mesmos sistemas que violentam corpos dissidentes também destroem a Terra. Patriarcado, colonialismo, racismo e heterocisnormatividade operam juntos de forma teológica, política e ecológica ao produzir exclusões e silenciamentos que atravessam corpos, territórios e saberes.
A Ecoteologia Queer nasce do reconhecimento dos fatos e apresenta uma espiritualidade situada, que nasce no chão onde pisa, que escuta o lugar, os corpos e as histórias que ali habitam. Não é uma fé abstrata ou desencarnada; brota das lutas e das feridas do corpo-território. Não está centrada no bem-estar individual ou na abstração da salvação, mas encarnada nos corpos que resistem, nas relações que curam, na Terra que, há tempos, grita. Uma espiritualidade que aprende com raízes e margens, que reconhece no desvio um caminho sagrado e propõe alianças entre dissidência e biodiversidade como gesto teológico e cósmico.
Enquanto o mundo tenta nomear como aberração ou erro tudo o que foge às regras sociais impostas, mulheres, indígenas, afrodescendentes e pessoas LGBTQIA+, excluídas e marginalizadas, continuam a rezar o terço e acender vela “pra dona do mar nos abençoar, pro amor florescer e pro bem imperar”, como canta Maria Rita. Outras, após o sinal da cruz, fazem trabalhos de proteção com guias no pescoço e glitter nos olhos, lado a lado com quem aparenta seguir o padrão da fé hegemônica. Uma biodiversidade religiosa, como a relatada por André Musskopf em “Viadagens Teológicas – Fazendo Pegação com Frida Kahlo”, que não deveria ser estranha em território latino-americano.
Um grupo cada vez mais amplo que desafia tais normas e enfrenta a rejeição ao misturar benzedeiras e pajelanças, salmos e rezas da avó, ervas e Evangelho. Com resistência, ampliam o conhecimento sobre a não-binariedade que tanto fere os padrões estabelecidos. Corpos que desafiam a ordem também reinventam o sagrado como experiência e em si. É a fé vivida nas frestas, que se manifesta no inesperado, em espaços onde diriam não haver conexão com o que é divino. É sobrevivência que traz à luz uma espiritualidade interdependente, múltipla, necessária e indecente como a Terra.
A natureza não é binária. É mutável, transita entre gêneros e cria as mais improváveis conexões. Nela, tudo é transitório e impermanente, assim como nós, humanos. Se pararmos para observar a vida, será possível perceber que há algo profundamente queer na Criação. Ela não se submete às categorias fixas (como macho e fêmea ou homem e mulher, passivo e ativo), e rompe com binarismos que sustentam o patriarcado, o colonialismo e a heterocisnormatividade. Faz isso por meio de espécies que mudam de sexo e gênero, relações que não visam à reprodução, parcerias simbióticas entre fungos, árvores, animais e bactérias, organismos que encaram a metamorfose e ecossistemas inteiros baseados na interdependência, não na hierarquia. É testemunho de diversas vidas e vidas diversas que também não se deixam enquadrar.
A Criação nunca precisou pedir licença para ser plural. As águas contêm fêmeas que se tornam machos, há flores que geram vida em si mesmas, há animais machos que gestam vidas e, nos céus, que se vestem de cores indefinidas, também está a beleza do que não se enquadra, mas existe. Somos todos e todas parte disso. E, por isso, quando nos sentimos deslocados das normas, talvez estejamos mais em sintonia com a própria natureza do que fomos levados a crer.
Corpos dissidentes, em travessia, que nunca couberam em moldes coloniais sabem disso de maneira intuitiva. São corpos que vivem à margem, mas também são margem que fertiliza. É de onde surgem mudanças e novas epistemologias, que ensinam a transgredir e a desobedecer. Como apontou Ivone Gebara, mais uma vez, em recente encontro no mês de julho de 2025, no Curso Latino-Americano de Diálogo Inter-Religioso, promovido pelo Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular – CESEEP, em São Paulo, com o tema Ecojustiça e Diálogo Interfé: trilhas de espiritualidade e lutas pelo Bem-Viver, a desobediência, por vezes, é necessária para romper com sistemas opressivos que tentam nos moldar e controlar. Essa insurgência é vital para abrir espaços de liberdade, para reinventar formas de existir, de se relacionar e de cuidar a partir do que foi excluído e silenciado. Os corpos dissidentes são memória encarnada de que há sabedoria no excesso, no que chamam de desvio. E é nesse desvio que floresce o respeito e a reverência ao todo: ao corpo, à Terra e à vida fora da norma. Os mesmos sistemas que tentaram apagar essas existências também violentaram florestas, rios e os ciclos naturais.
Em Teologia Indecente, Marcella Althaus-Reid ressalta que “na teologia, o que é mais valioso não é a estabilidade, mas o sentido de descontinuidade”. Esta visão ecoa para além de uma abordagem estritamente teológica: é a percepção de um movimento constante em que o fim não é um ponto final, mas uma transformação que reforça a necessária fluidez, a impermanência e a multiplicidade da existência. É também nesse fluxo que a natureza e o universo queer se encontram, como formas de vida que se recusam à normatização e celebram a reinvenção contínua do ser, do instável e do eterno por vir.
Mas é de Donna J. Haraway, em ficar com problema: fazer parentes no Chthuluceno, que recebemos o mais intrigante e inusitado convite para fazer parentes, não bebês, e criar novas formas de rede para sustentar a vida diante da urgência climática, do esgotamento das estruturas patriarcais e da crise de sentido que atravessa as relações humanas. Assim, ampliamos nossa noção de família para além do sangue e da reprodução, criando alianças multiespécie e intergeracionais comprometidas com o cuidado e a continuidade da vida. Ao desfazer hierarquias, somos capazes de construir novos mundos com o outro, seja humano, os mais-que-humano, como bicho, planta e até elemento não vivo.
Se deixarmos de olhar o futuro apenas como prolongamento genético e dependente da reprodução, poderemos enxergá-lo como uma fluida dança de interdependência entre as espécies, onde co-criamos com o todo. É um chamado para transcender o ego antropocêntrico e instaurar uma aliança da convivência, na qual as manifestações de toda a Criação se entrelaçam à Terra e a redenção deixa de ser vertical para tornar-se rizomática, ou seja, não linear, descentralizada e sensível.
Em uma Criação relacional, a salvação jamais será individual, mas coletiva, ecológica e cósmica. Não haverá fuga para o céu, mas um verdadeiro compromisso com a Terra, esta que respira em nós, por nós e apesar de nós. Talvez, como Ailton Krenak ensina, se deixássemos de lado a ideia, instituída desde o século XX, como sendo natureza ‘tudo o que não é o meu corpo’ e o restante a ‘humanidade’, romperíamos também com a duplicidade que nos segmenta e nos tira a capacidade de amar equitativamente evidenciando as múltiplas segregações como defeitos e obstáculos, em vez de reconhecê-las como complementos essenciais para o equilíbrio vital.
A Terra não é mero cenário, mas personagem que, por meio da escuta, nos dá presságios e revelações. A natureza é queer. Não como metáfora, mas em resistência aos sistemas que violentam corpos, ela também se afirma como força teológica, ecológica e política. Ela é nossa ancestral e aliada. Quando paramos para escutá-la, aprendemos a sermos mais livres: mais folhas, mais vento, mais múltiplos, e a entender que o cuidado com o mundo não está na continuidade do mesmo, mas na criação e manutenção da pluralidade da vida. Honrar a biodiversidade dissidente é, assim, honrar a Terra que também é frequentemente violentada, mas insiste em parir e ampliar caminhos de e para a liberdade. É o que podemos chamar de rito de retorno, cura e insubmissão, que reforça a aliança indecente entre a Terra queer e o pulsar da biodiversidade dissidente.